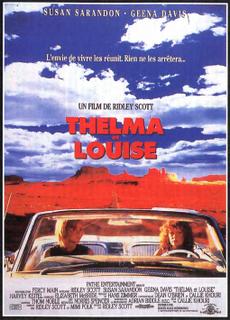Escrevi este conto para a antologia Curtas-Letragens (publicada em final do ano passado). Em estação que convida a maior proximidade com o mar, gostaria agora de partilhá-lo convosco.
Furacão
«I have been half in love with easeful Death…Was it a vision or a waking dream?»
Keats, «Ode to a Nightingale»;
Os primeiros sinais do furacão Laura tinham chegado a Key West na noite em que Hamilton se decidira a deixar Sandy. As rajadas de vento atingiam os 195km/hora e as ondas que varriam a costa em breve poderiam ultrapassar os 10 metros, mas nenhuma força, por mais ameaçadora que parecesse, impedia o velho Buick, oriundo do Tennessee, de prosseguir estrada fora. Como se a Hamilton Davis – o seu condutor – perseguisse a ideia de um encontro com o destino. No banco ao lado levava apenas um volume de poemas de Edgar Allan Poe, o mesmo que, desde criança o surpreendia pela desmesura da dor: «E assim estou deitado toda a noite ao lado/Do meu anjo, meu anjo, meu anjo, meu sonho e meu fado,/ No sepulcro ao pé do mar,/Ao pé do murmúrio do mar», lembrava de cor, como nos tempos em que imaginava a desditosa com o rosto de Gene Tierney.
Ao contrário do poeta que perdera tragicamente a amada, Hamilton regressava ao murmúrio do mar, mas não podia ter saudades. Não tinha de quê. O que mais lhe doía, na partida, era esta perplexidade de se ter dissolvido em espuma tudo o que Sandy lhe dera nos melhores tempos – a admiração profunda, o acompanhamento incondicional, a disponibilidade que ela lhe declarara constante. Sentia-se como alguém que se descobrisse tomado de amores por um fantasma – fora uma aparição ou, tão ansioso estava por um amor assim, que passara todo o tempo a sonhar?
Hamilton e Sandy encontraram-se durante o último furacão. O Mitch («por que diabo falam dos furacões como de heróis de romances?», perguntara-lhe ela quando foram apresentados) nasceu de uma inocente brisa tropical no Mar das Caraíbas. Treze dias depois de ter roubado o panamá de um descuidado veraneante, Mitch destruíra edifícios, pontes, estradas, arrasara zonas costeiras um pouco por toda a América Central e no Sul dos Estados Unidos, mas sobretudo causara cerca de 11 mil vítimas mortais. Treze dias que colocaram Hamilton Davis, professor de Matemática, e Sandra Charles, sem ocupação precisa, que viera às Key em busca da lenda romântica de Hemingway, no limiar do enamoramento.
Fecharam-se num café enquanto toda a cidade seguia, inquieta, a intensidade do vento. «Como num filme antigo», comentou Sandy, ansiosa por demonstrar que existia um cérebro bem treinado sob a franja loura. «Está a falar daquele com o Edward G. Robinson?» – respondeu. «Chama-se Key Largo e passa-se precisamente num local como este – tão decadente que os seus poucos clientes podem morrer por esquecimento do mundo». Lembra-se de pensar em si próprio com sarcasmo («lá está o professor de Matemática a mostrar que sabe umas coisinhas para além da Tabuada»), mas a verdade é que Sandy, afinal pouco mais velha do que as suas alunas do liceu, mordeu o isco e pediu-lhe para falar de Hemingway, que ainda se apaixonara por Key West depois de conhecer quase tudo.
Os tempestuosos dias que se seguiram glosaram este mote. À medida que a tempestade tropical atingia proporções assustadoras, Hamilton Davis, em sobressalto, compreendia que nem sempre se fala de Literatura quando se fala de Literatura, sobretudo se a fúria dos elementos transforma duas pessoas numa ilha. Em breve, Hemingway era apenas o pretexto para que Hamilton e Sandy se tocassem. No último dia do furacão, quando já se sabia que este era fora o mais mortífero da história do Atlântico desde 1780, Hamilton pôs uma velha canção de Sinatra no gira-discos do café e convidou-a para dançar. Meses depois, estava a viver no Tennessee, lado a lado com uma família em tudo diferente da sua, só porque esta era a família de Sandra Charles, a mulher que lhe fora trazida no olho do furacão.
A relação, nascida sob tão romanescos auspícios, não tardou a mostrar-se menos especial do que Hamilton esperara no momento de trocar o liceu da ilha onde crescera por um escritório bancário numa pequena cidade nostálgica do Klu Klux Khan. No dia em que se descobriu a levantar búzios ornamentais para lembrar o som do mar percebeu também que os tempos em que passeavam de mãos dadas, trocando sussurros e beijos, estava longe. Cansada de uma conquista que não tardou a parecer-lhe demasiado fácil, Sandy sugeria-lhe que estivera com outros, fazia comparações, referências consecutivas ao seu passado sexual. E ele ouvia, fingindo brincar e participar no jogo, embora estivesse também muito consciente de que quando amava, só conhecia práticas lúdicas que conduzissem ao êxtase.
Foi, sob o calor sufocante do Verão sulista, que Hamilton compreendeu quão irremediável se tornara a distância que os separava. Como em tantas outras tardes, Sandy e a mãe tinham reunido um grupo de amigas. Como há muito tempo acontecia, também nessa tarde Hamilton, que chegava do banco, não pode impedir-se de as olhar com um misto de desdém e horror. Pareciam-lhe patéticas estas mulheres de várias gerações a presumir de Scarlett O’Hara, como se o Sul ainda fosse um mar de algodão em que damas de crinolina eram devotadamente servidas por criados negros e silenciosos. Jogavam canasta, bebiam laranjadas com muito gelo e falavam sobre homens. Nos últimos anos, a pedido de várias universitárias, concederam que o tabaco fosse acrescentado à mistura, sob a alegação de que era preciso acompanhar a moda, mas tudo o mais continuava tragicamente encalhado num qualquer buraco negro do tempo em que as pessoas se comportavam como num filme de época.
Hamilton pôde constatar, dessa vez, que a sua chegada interrompera uma consulta de Tarot, outra das actividades a que as circunstantes habitualmente se dedicavam. Rebecca Mae, auto-proclamada especialista em artes divinatórias, lançava as cartas para, alegadamente, iluminar o passado, presente e futuro da consulente. Que era, a avaliar pela atrapalhação evidenciada pela interessada e respectiva mãe, a própria Sandy. Se o amor o tivesse cegado completamente, bastaria aquela comunidade de mulheres, assim reunidas e para semelhante efeito, para lhe lembrar que nunca passara dum intruso quer no Tennessee, mas sobretudo – e mais grave ainda – na vida de Sandy. Do andar de cima, onde preparava um banho, Hamilton pôde ouvir distintamente a voz da pitonisa:
- Não estou preocupada com o teu futuro, Sandy. As cartas dizem-me que encontrarás o amor da tua vida (aliás, todas sabemos que já o encontraste, não é querida?)
- Só te enganaste no caminho – interrompeu a mãe da consulente.
- Mas vejo um elemento de perturbação no teu presente. Estás a ver esta carta – a do Diabo? – é a sua presença que te impede de seguir adiante. Sabes o que tens a fazer: enfrentar a realidade com coragem.
- E ruma aos braços do teu Andy, que te ama e sempre amou, independentemente das tuas loucuras – aconselhou uma das conjuradas.
Falavam de Andy Stockwell, o amigo de infância, que a sogra de Hamilton continuava a tratar como a um dos filhos. Apenas um dos muitos nomes na lista com que Sandy gostava de o causticar . O Diabo era ele próprio – o forasteiro que ameaçava a perfeição daquele quadro – mas que este estranho mundo não tardaria a exorcizar. Sentado na beira da banheira, Hamilton sentiu que tudo o enojava naquelas mulheres – a forma afectada como prolongavam as sílabas, a ociosidade, as luvas brancas que impunham aos criados. Um nojo que tomou proporções insuportáveis, quando percebeu que em breve se estenderia a Sandy e ao amor que por ela sentia. A partir de tão tremenda constatação dentro de si mesmo, Hamilton só podia fazer uma de duas coisas: partir ou morrer.
Quando, semanas depois, ouviu na Rádio a notícia de que se aproximava da Costa Sul mais um furacão, cujo impacto se previa comparável ao anterior, dois anos antes, Hamilton não esperou por melhores dias – improvisou uma bagagem muito leve, a que somou os muito manuseados poemas de Edgar Allan Pöe e meteu-se no Buick, disposto a enfrentar a tempestade. Familiarizado, desde criança, com lendas povoadas de piratas espectrais, acreditava piamente na capacidade do mar para apaziguar os dilemas do coração humano. Ao longo da estrada que boletins metereológicos cada vez mais alarmantes iam desertificando, esperava apenas que este furacão levasse Sandy da sua vida da mesma maneira que o anterior o roubara de si mesmo. De volta ao seu mar de galeões afundados, esperaria um amor que lhe merecesse saudades.